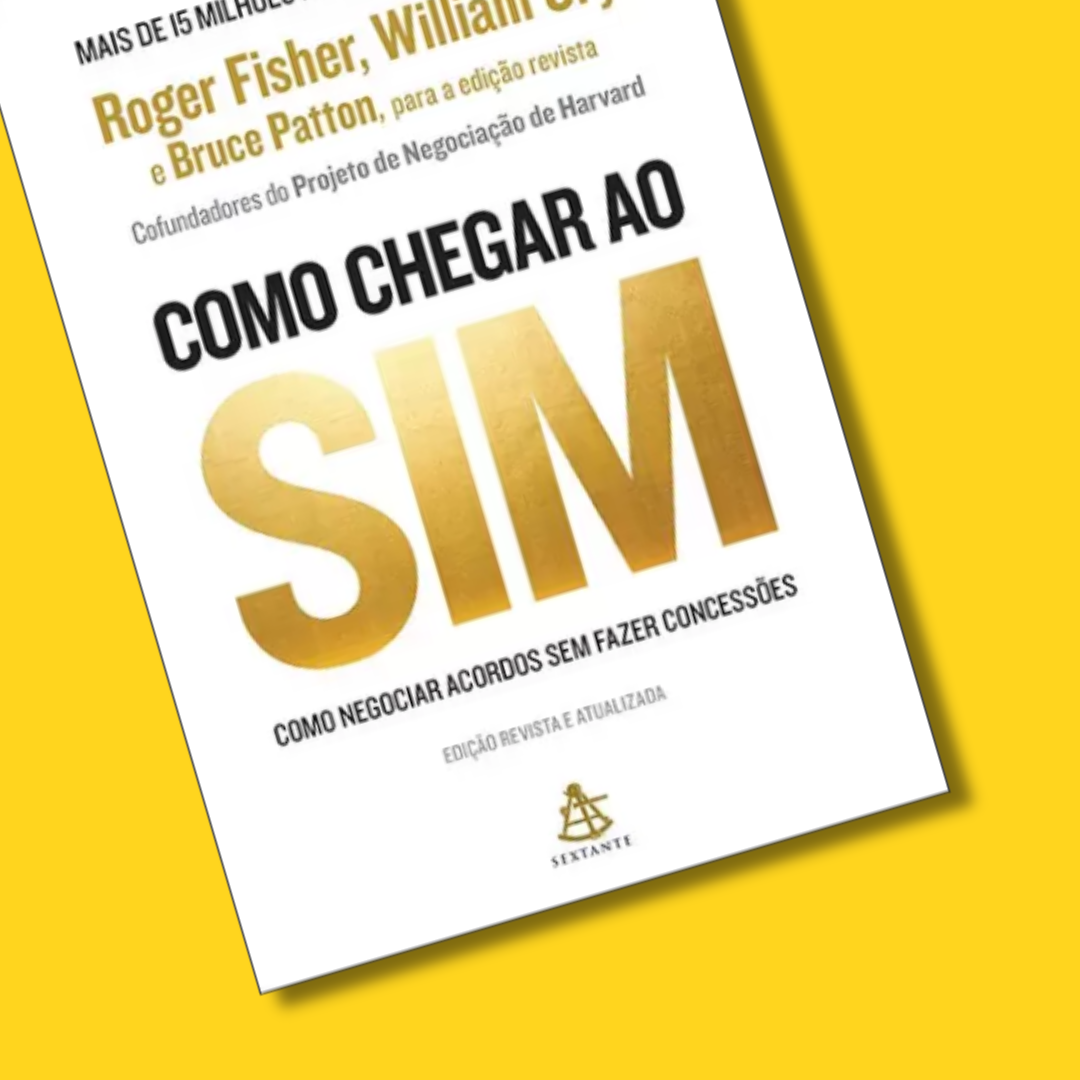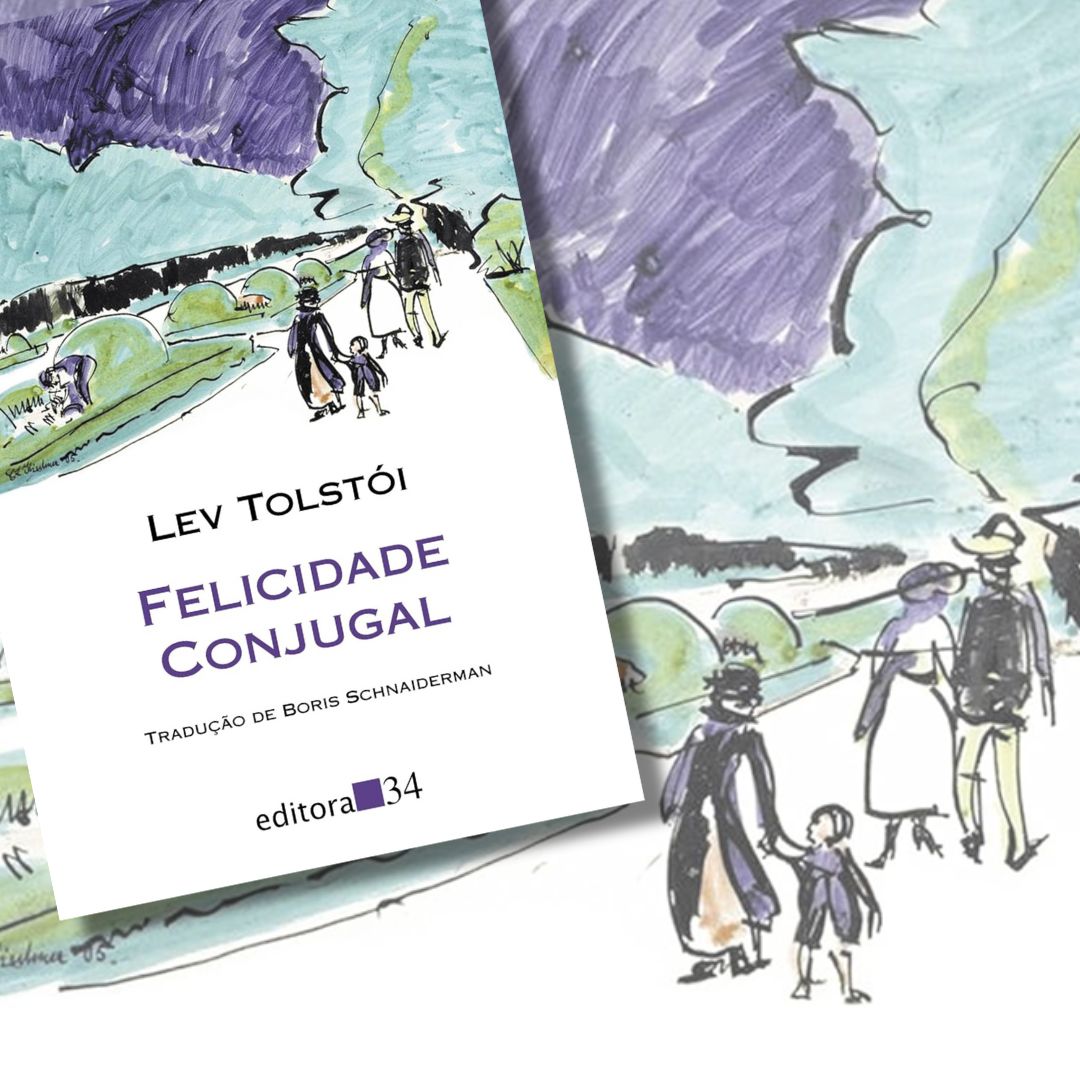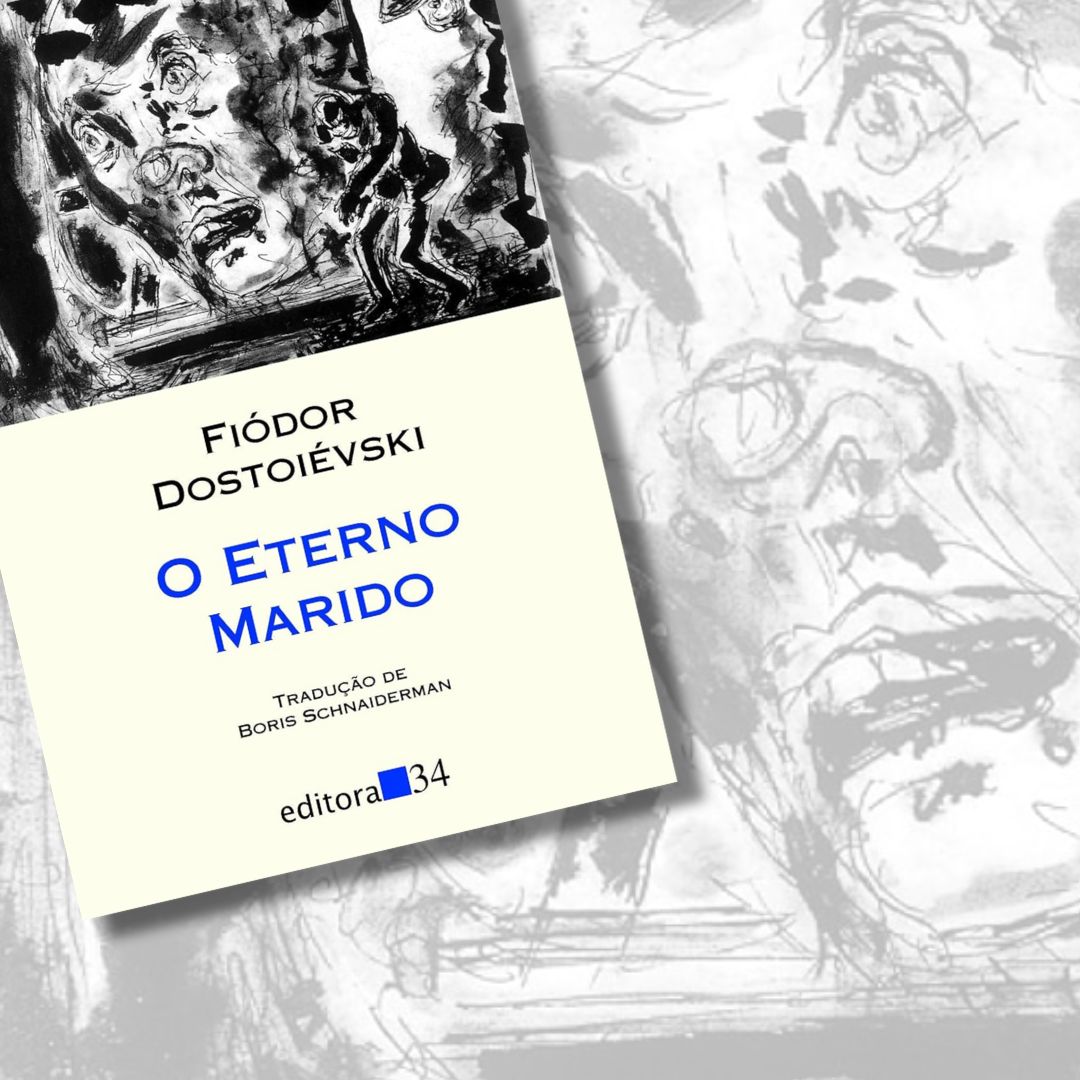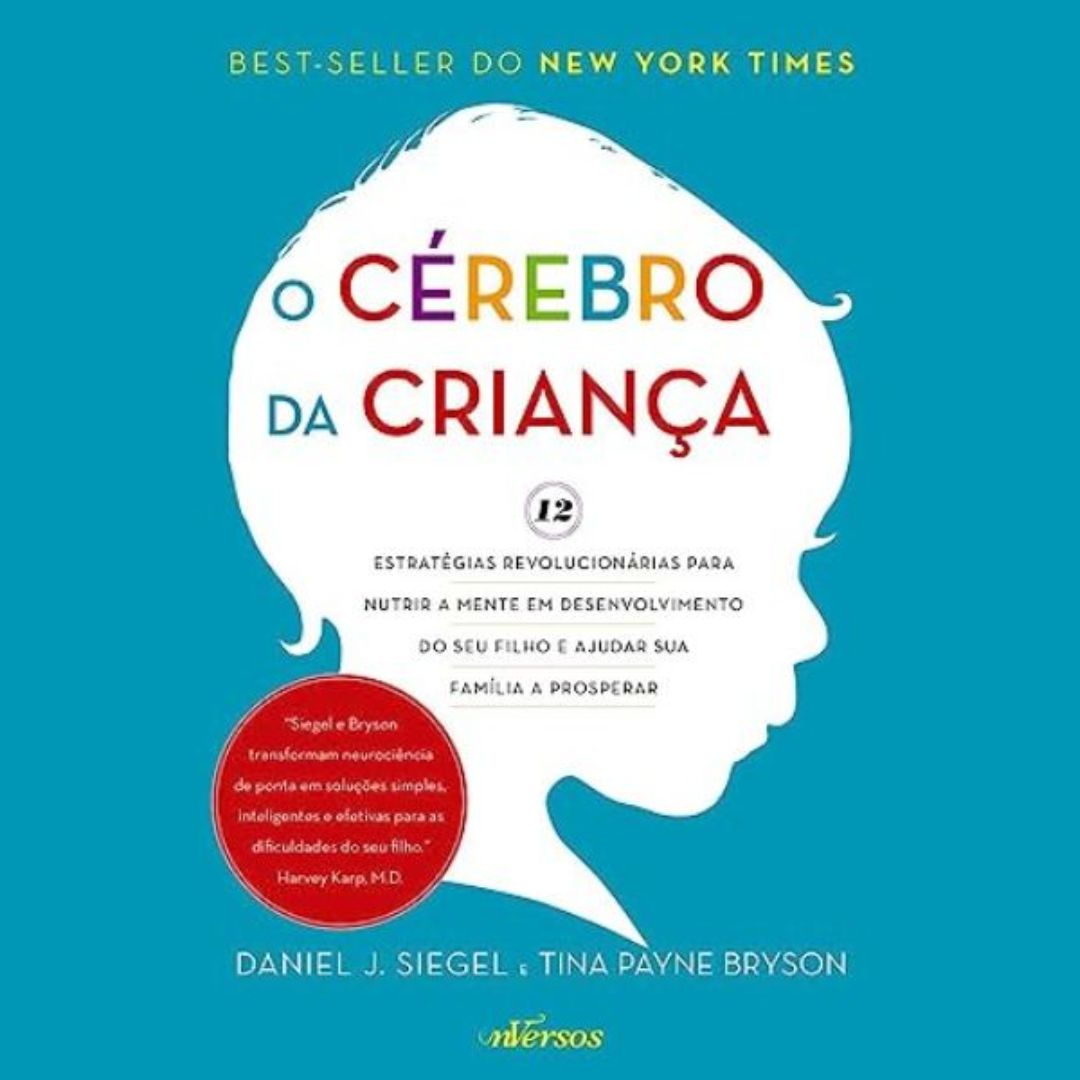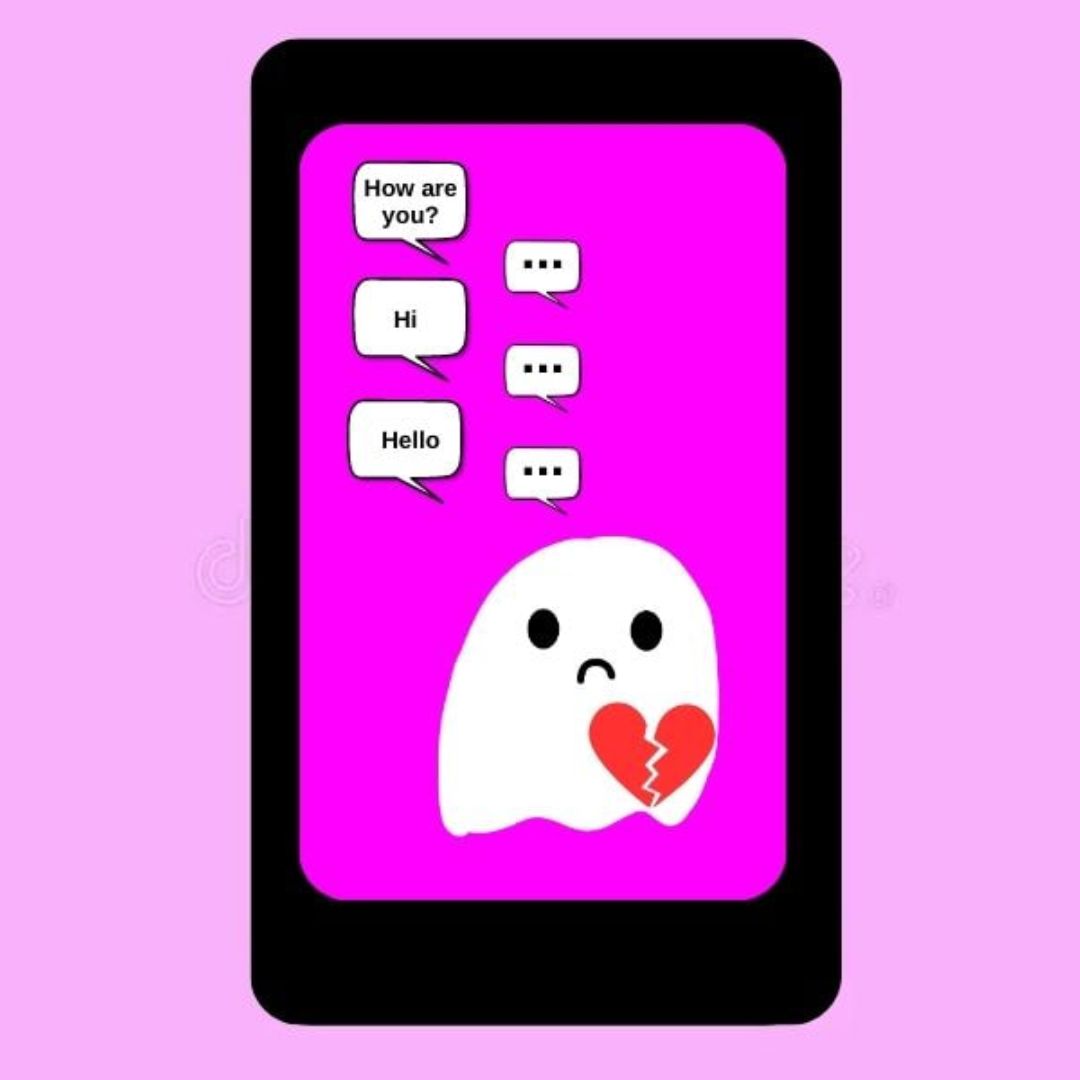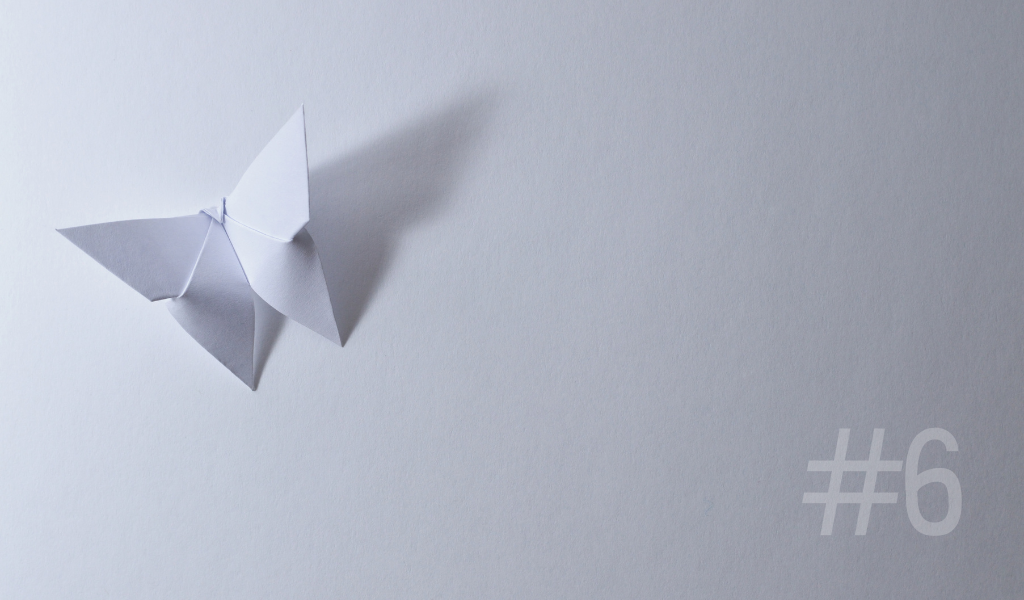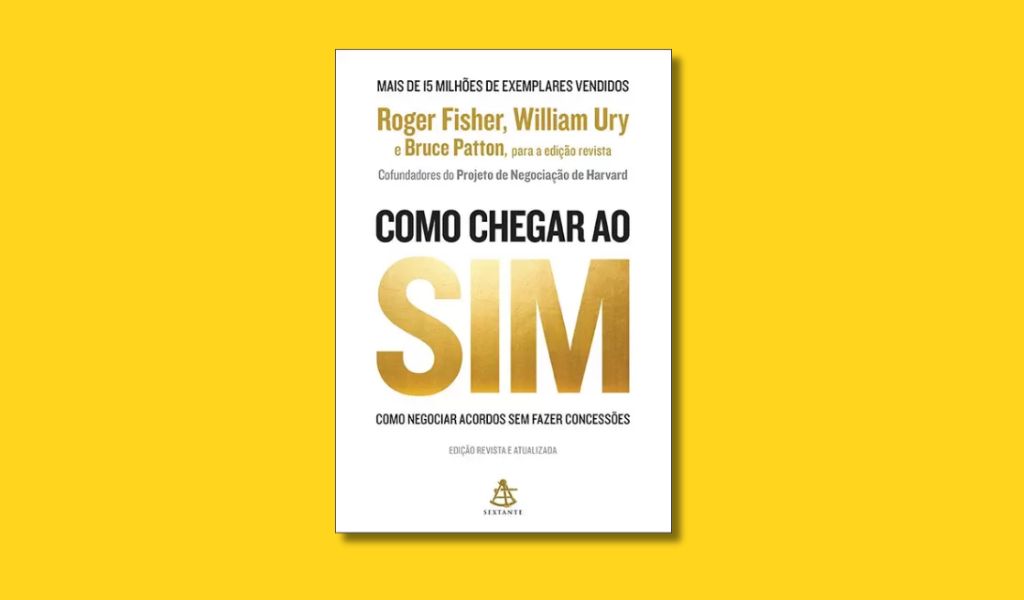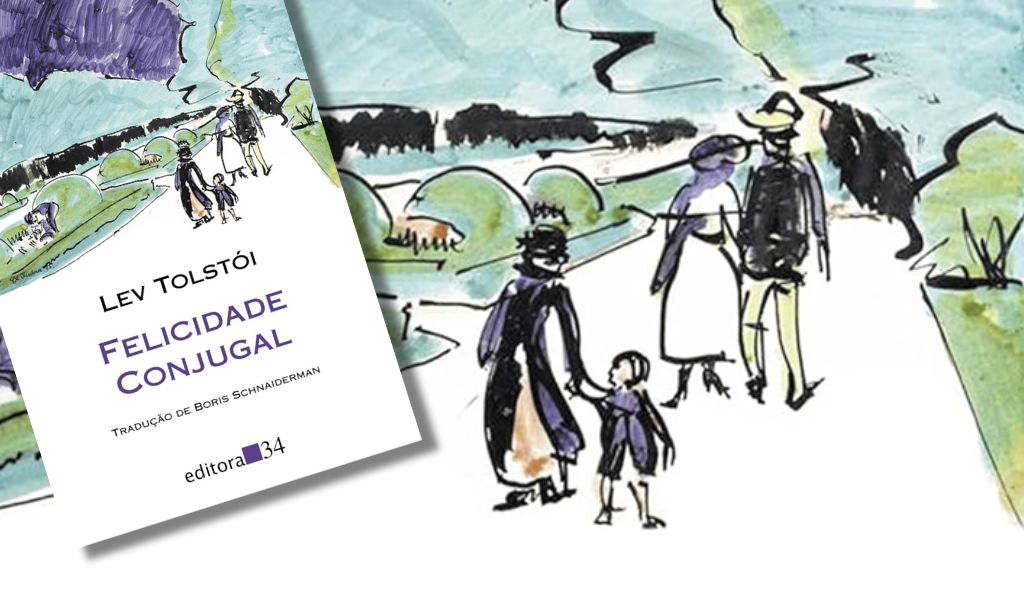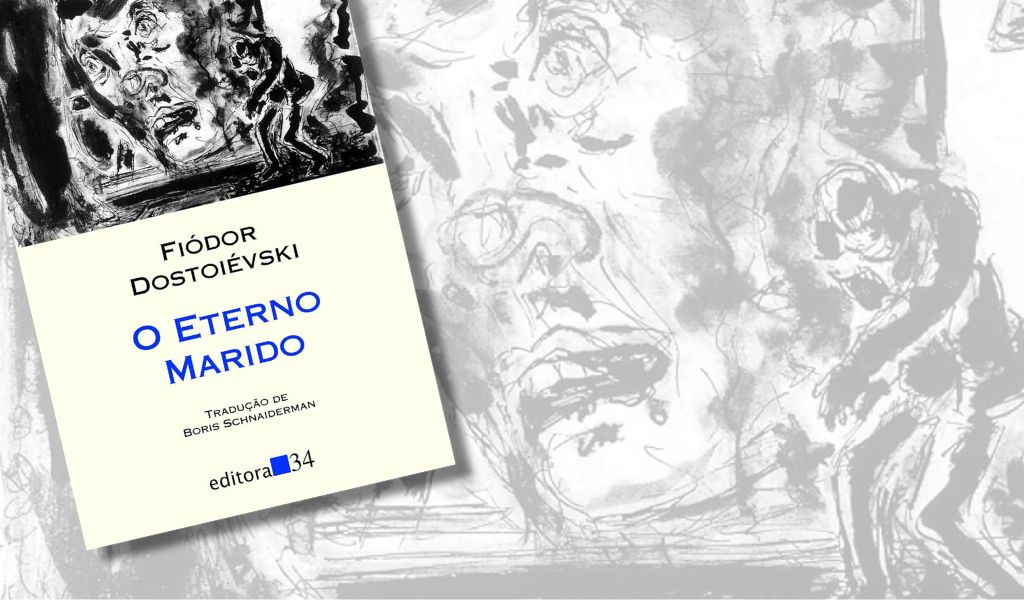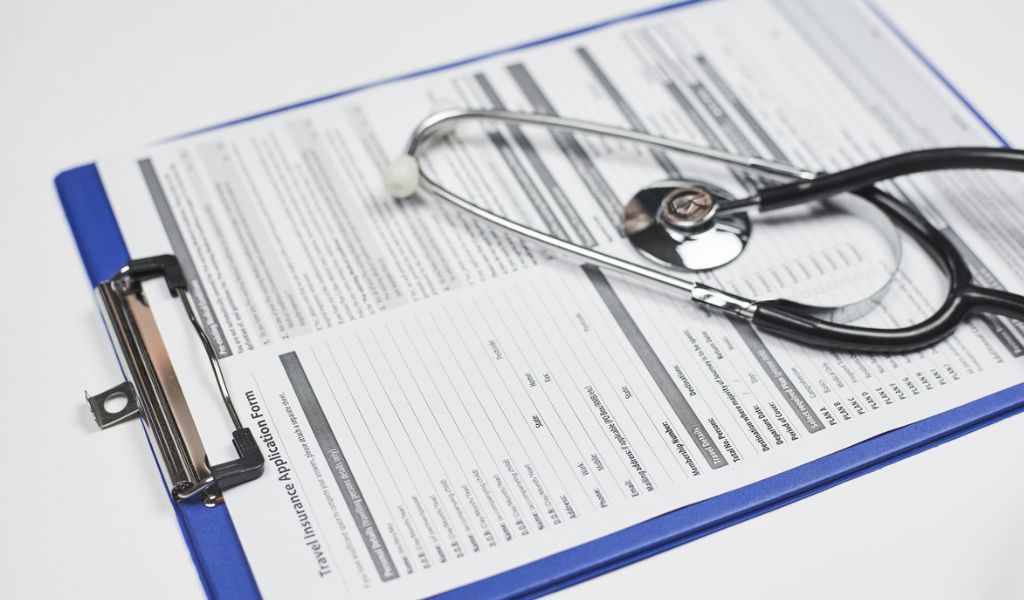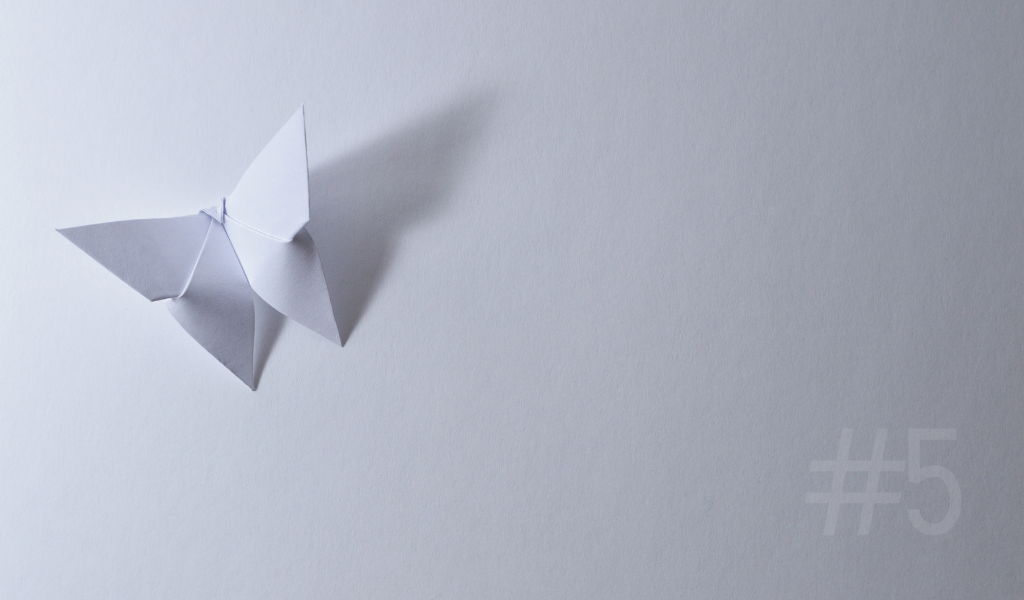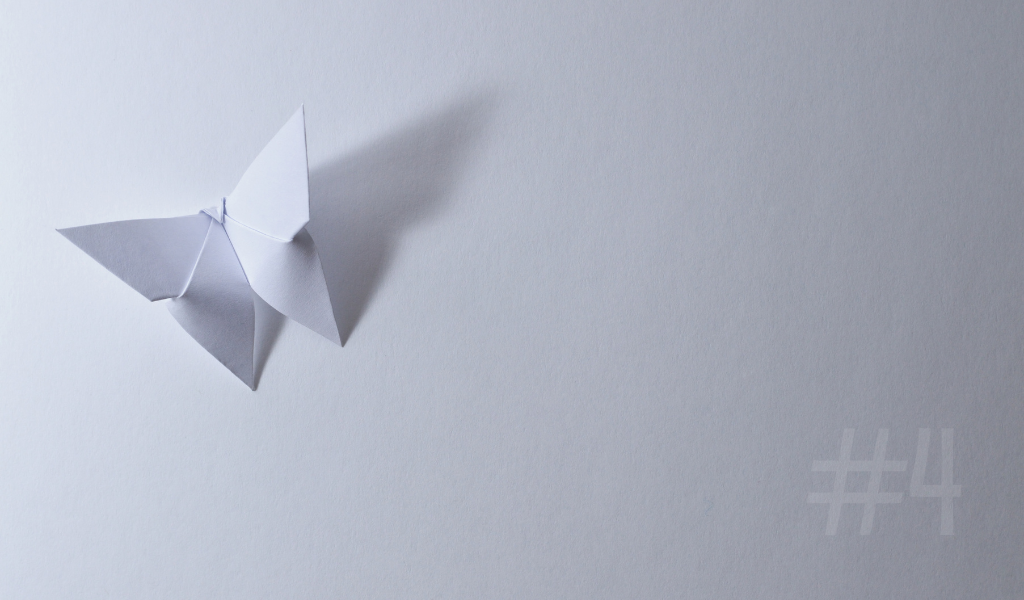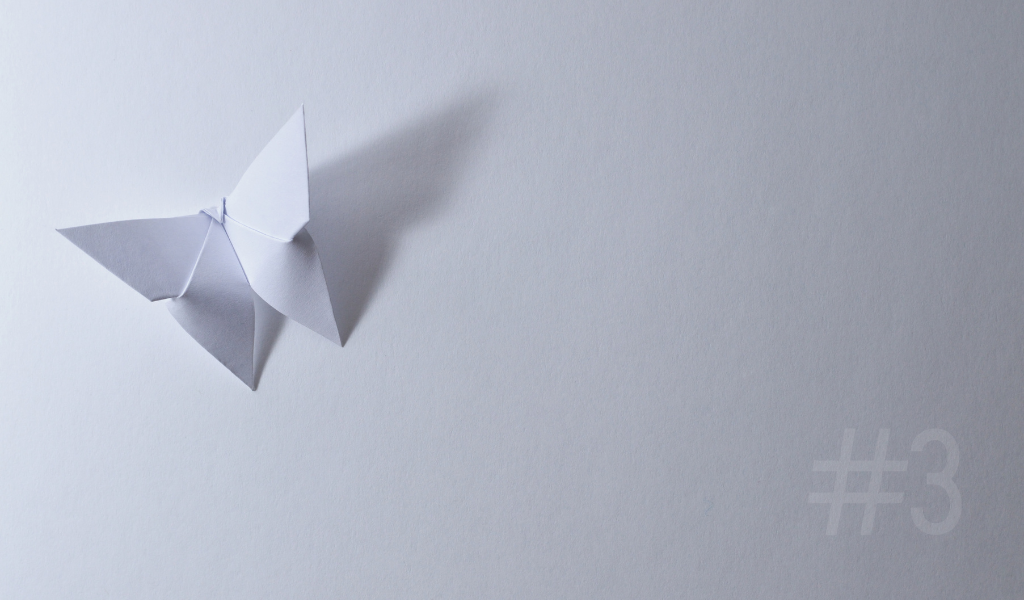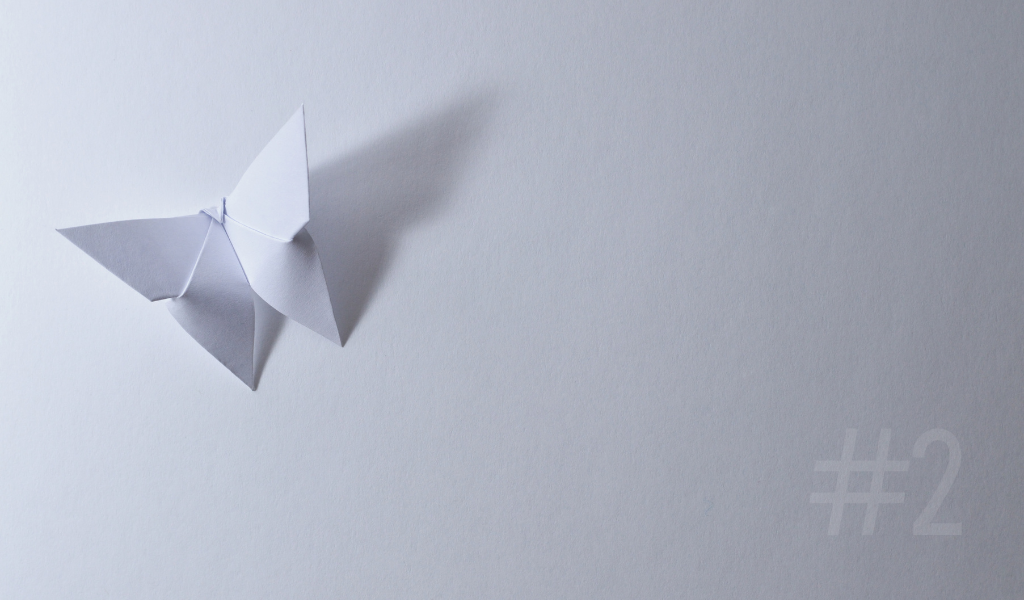|
0 Comentários
Por Cristina Ruffino. Há uma diferença grande entre fazer uma queixa ou fazer um pedido. O posicionamento em que coloco @ outr@ quando eu me queixo del@ e onde me coloco é totalmente diferente, ainda que eu não tenha a intenção. Quando me queixo, @ posicion@ como:
O que conseguimos com queixas é a reação de defesa d@ outr@, porque, provavelmente el@ se sentirá atacad@ /criticad@ /julgad@. Além disto, a queixa fala do passado: o que @ outr@ fez / não fez. E não diz nada sobre o que eu desejo para o futuro. Se eu transformo a queixa em um pedido, identificando o que eu quero que aconteça, pelo que e colocando para @ outr@ isso de forma afirmativa, ou seja, ao invés de falar o que @ outr@ não fez, diga o que você gostaria que @ outr@ fizesse para ser bom para ambos. Exemplo: Ao invés de:
Com o pedido, eu posiciono @ outr@ como alguém que pode me compreender e que eu acredito que colaborará se puder. Ou seja, pedindo eu demonstro confiança n@ outr@ e na relação. Se @ outr@ não for poder me atender por algum motivo, el@ poderá me dizer. Ao fazer um pedido (e não uma queixa) eu também estarei focando no problema e não na pessoa. Veja a diferença:
Gostaria de observar se frente aos seus descontentamentos você tem levado para @ outr@ suas queixas ou seus pedidos? Obs. Nem sempre você conseguirá, tudo bem, você está em processo. Não desista só porque cometeu erros ou porque vê @ outr@ cometendo. Assuma que estão aprendendo e que haverá deslizes para velhos padrões. Observe, reconheça, respire e tente de novo. Lembre-se que não é pel@ outr@, é por você. Você merece conversas mais leves e mais produtivas. Se ofereça isso. Mãe e Pai ...
1 - Nunca esqueçam: eu sou a criança de vocês dois. Agora, só tenho um pai ou uma mãe com quem eu moro e que me dedica mais tempo. Mas preciso também do outro. 2 - Não me perguntem se eu gosto mais de um ou do outro. Eu gosto de “igual”modo dos dois. Então não critique o outro na minha frente, porque isso dói. 3 - Ajudem-me a manter o contato com aquele com quem não fico sempre. Marque o seu número de telefone para mim, ou escreva-me o seu endereço num envelope. Ajudem-me, no Natal ou no seu aniversário, para poder preparar um presente para o outro. Das minhas fotos, façam sempre uma cópia para o outro. 4 - Conversem como adultos. Mas conversem. E não me usem como mensageiro entre vocês - ainda menos para recados que deixarão o outro triste ou furioso. 5 - Não fiquem tristes quando eu estiver com o outro. Aquele que eu deixo não precisa pensar que não vou mais amá-lo daqui há alguns dias. Eu preferia sempre ficar com vocês dois. Mas não posso dividir-me em dois pedaços - só porque vocês se separaram. 6 - Nunca me privem do tempo que me pertence com o outro. Uma parte de meu tempo é para mim e para a minha Mãe; uma parte de meu tempo é para mim e para o meu Pai. Sejam consequentes aqui. 7 - Não fiquem surpreendidos nem chateados quando eu estiver com o outro e não der noticias. Agora tenho duas casas. E preciso distingui-las bem - senão não sei mais onde fico. 8 - Não me passem ao outro, na porta da casa, como um pacote. Conversem como vocês podem ajudar a facilitar a minha vida. Quando vierem me buscar ou levar de volta, deixe que eu perceba que podem conversar e se respeitar. 9 - Se vocês não puderem suportar o olhar do outro, combinem de me buscarem na casa de avós, na escola ou na casa de amigos. 10 - Não briguem na minha frente. Sejam, ao menos, tão educados entre vocês quanto seriam com outras pessoas, como vocês também exigem de mim. 11 - Não me contem coisas que ainda não posso entender. Conversem sobre isso com outros adultos, mas não comigo. 12 - Deixem-me levar os meus amigos na casa de cada um. Eu desejo que eles possam conhecer a minha Mãe e o meu Pai e achá-los simpáticos. 13 - Concordem sobre o dinheiro. Não desejo que um tenha muito e o outro muito pouco. Tem de ser bom para os dois, assim poderei ficar à vontade com os dois. 14 - Não tentem "comprar-me". De qualquer forma, não consigo “comer todo o chocolate” que eu gostaria. 15 - Falem-me francamente quando não dá para "fechar o orçamento". Para mim, o tempo é bem mais importante que o dinheiro. Divirto-me bem mais com um brinquedo simples e engraçado que com um novo brinquedo. 16 - Não sejam sempre "ativos" comigo. Não tem de ser sempre alguma coisa agitada ou nova quando vocês fazem alguma coisa comigo. Para mim, o melhor é quando somos simplesmente felizes para brincar e que tenhamos um pouco de calma. 17 - Deixem o máximo de coisas idênticas na minha vida, como estava antes da separação. Comecem com o meu quarto, depois com as pequenas coisas que eu fazia sozinho com meu Pai ou com minha Mãe. 18 - Sejam amáveis com os meus outros avós - mesmo que, na sua separação, eles tenham ficado mais do lado do seu próprio filho. Vocês também ficariam do meu lado se eu estivesse com problemas! Não quero perder ainda os meus avós. 19 - Sejam gentis com o novo parceiro que o outro encontrará ou já encontrou. Preciso também me entender com essas outras pessoas. Prefiro quando vocês não se vêem com ciúme. Para mim, será bom quando vocês dois encontrarem alguém que possam amar. Vocês ficariam mais felizes e não ficariam tão chateados um com o outro. 20 - Sejam otimistas. Vocês não conseguiram gerir o casamento de vocês - mas tudo poderá ficar bem novamente. Releiam todos os meus pedidos. Talvez vocês conversem sobre eles. Mas não briguem. Não usem os meus pedidos para censurar o outro, atacando-o pela forma com que fez comigo. Se vocês o fizerem, vocês não terão entendido como eu me sinto e o que preciso para ser feliz. Fonte - Tribunal de Família e Menores de Cochem-Zell/Alemanha Por Cristina Ruffino. Estamos imersos cotidianamente em conversas que possuem propósitos diferentes e conduzem a resultados diferentes. Cada qual serve em determinadas situações e não serve para outras. Um exemplo disto é o que acontece quando estamos em um Debate/Embate ou quando estamos em um Diálogo (distinção feita pela equipe do Public Conversations Project). Nas relações continuadas e cotidianas, raramente o debate/embate nos ajuda. O embate tem como efeito gerar competição, e quando estou em competição o único responsável para fazer dar certo a ideia que ganhar será quem a propôs, o outro se desresponsabiliza, já que não se sentiu ouvido e considerado.
O diálogo, por outro lado, gera cooperação e novas alternativas com senso de autoria e corresponsabilidade de ambos. Todos foram ouvidos e aquela decisão final é resultado da consideração de tudo que foi colocado para ser avaliado, ainda que originalmente a ideia tenha surgido a partir de um deles. Observe-se nas conversas cotidianas e reflita:
Escrito por Cristina Ruffino. Abordar a traição num relacionamento a partir da externalização do problema é uma maneira de encarar essa questão delicada sob uma luz diferente. Quando falamos de externalizar, estamos falando de tirar o problema de dentro do casal e colocá-lo como um desafio externo, algo que o relacionamento enfrenta, e não como uma falha intrínseca de uma das partes.
Imagine que a traição, em vez de ser um estigma ou uma mancha no caráter de quem traiu, é vista como um intruso que entrou no relacionamento. Essa abordagem não visa minimizar a dor ou a seriedade da situação, mas oferece um meio de lidar com ela de uma forma que não esteja carregada de acusações e ressentimentos pessoais. Ao externalizar a traição, o casal pode começar a ver a situação como um problema que ambos podem enfrentar juntos, em vez de um campo de batalha onde um é o agressor e o outro a vítima. Isso pode abrir caminho para discussões mais construtivas sobre o que levou à traição, sem que a conversa se torne uma sessão de culpa. Isso não quer dizer que a responsabilidade pela ação desaparece. Pelo contrário, reconhecer a traição como um problema externo permite que quem traiu assuma a responsabilidade de maneira mais objetiva, sem se perder em um turbilhão de auto-recriminação. Da mesma forma, para a pessoa traída, pode ser mais fácil expressar sua dor e decepção sem cair na armadilha do ressentimento cego. Esta perspectiva também pode ajudar na cura e na reconstrução do relacionamento. Em vez de se fixar na traição como um ato que define a relação, o casal pode começar a trabalhar juntos para fortalecer a confiança e a comunicação, abordando as falhas e vulnerabilidades que permitiram que o 'intruso' entrasse. Em suma, ao externalizar a traição, um casal pode encontrar um caminho menos doloroso e mais produtivo para lidar com essa situação extremamente difícil, concentrando-se na cura e no crescimento conjunto, em vez de culpar e acusar. De Roger Fisher,, William Ury e Bruce Patton, No livro "Como Chegar ao Sim", os autores nos apresentam um método de negociação baseado em princípios e não em barganhas ou ameaças. É sabido que quando fazemos uma negociação baseada em barganha ou pressão, ainda que ganhemos aquela negociação, deixamos a relação marcada pela sensação de injustiça, manipulação e desejos de vingança. Essas marcas se propagam para além das pessoas envolvidas diretamente naquele conflito, criando ao nosso redor um ambiente de vigilância e defesa de todos contra todos.
Na negociação baseada em princípios, entramos para o mundo da arte da negociação. Os autores desdobram a estratégia revolucionária da negociação baseada em interesses, também conhecida como a abordagem do ganha-ganha. Aqui, eles propõem um caminho para além do confronto, destacando quatro pilares fundamentais que prometem transformar nossas interações. 1. Separar as pessoas do problema: Imagine que, ao invés de encararmos o outro como um adversário, o vemos como um parceiro em potencial na resolução de uma questão comum. Não significa ignorar o problema ou ficar indiferente à questão que precisa ser resolvida, mas encarar juntos o problema. Este princípio encoraja a empatia e a cooperação, enfatizando a importância de distinguir entre as emoções e o problema em si. É um convite a reconhecer que, juntos, podemos ser arquitetos de soluções criativas, mantendo os relacionamentos não só intactos mas fortalecidos. 2. Concentrar-se nos interesses, não nas posições: Frequentemente, nos apegamos a nossas posições (o que entendemos como a solução) como se fossem extensões de nossa identidade. Mas, e se olhássemos além? Ao focar nos interesses que motivam nossas demandas, abrimos caminho para compreender verdadeiramente o que está em jogo. Esse entendimento mútuo pode ser a chave para desvendar soluções inesperadas, que satisfaçam a essência do que ambas as partes realmente necessitam. 3. Gerar opções de ganhos mútuos: Em vez de uma batalha onde só pode haver um vencedor, os autores nos convidam a ver a negociação como um terreno fértil para a criatividade. Aqui, o desafio é pensar fora da caixa, buscando soluções que beneficiem a todos. Isso não apenas aumenta as chances de um acordo bem-sucedido que perdurará, mas também promove um sentimento de realização compartilhada. 4. Usar critérios objetivos: Por último, mas não menos importante, é fundamental que as decisões tomadas sejam justas, baseadas não em caprichos pessoais ou pressões, mas em critérios objetivos e mutuamente aceitos. Isso estabelece um terreno comum de entendimento e respeito, pavimentando o caminho para decisões equilibradas e equitativas e a possibilidade de novos acordos. Ao abraçar esses princípios, a negociação se transforma de um confronto desgastante para um diálogo construtivo, onde todos os envolvidos têm a ganhar. Essa abordagem não apenas enriquece as relações, mas nos ensina uma lição valiosa sobre a natureza colaborativa do sucesso humano. Você já vivenciou situações de confronto que gerou mal estar para todos, se conhecesse estes princípios na época, acha que teriam sido úteis? Sabendo hoje que uma negociação pode ser feita a partir deste paradigma, gostaria de fazer diferente no futuro? Escrito por Cristina Ruffino. "Amar era pouco para mim, depois que eu experimentara a felicidade de apaixonar-me por ele. Eu queria movimento, e não uma fluência tranquila da vida." Márya - Tolstoy
Dentro das páginas de "Felicidade Conjugal", Tolstói nos convida a um íntimo mergulho nas profundezas das relações humanas, tecendo uma trama que gira em torno das emoções críveis e das percepções agudas de seus personagens. Não é apenas a história que se desenrola, mas um diálogo entre as almas, cada uma trazendo sua própria melodia para a sinfonia da vida. Com uma maestria que só Tolstói possui, ele nos conduz pelo labirinto do amor e do casamento, guiados pelos olhos de Márya, uma jovem cuja jornada do coração é tão cativante quanto complexa. Desde os primeiros capítulos, somos apresentados a sua vida pré-marital, marcada por uma doce amizade com Serguei Mikhailovich — uma presença constante e reconfortante, apesar da diferença de idade que os separa. A história se desdobra em duas partes distintas, como se fossem dois atos de uma peça, cada um revelando as diferentes facetas do amor. No início, é como se estivéssemos flutuando em um sonho, testemunhando o florescer de um amor entre Márya e Serguei, tão puro e radiante que parece desafiar a própria realidade. Tolstói, com seu toque único, pinta essa fase com cores vivas de alegria e paixão, capturando a essência embriagadora do amor juvenil. Mas como em qualquer sonho, vem o despertar. A segunda parte nos arrasta para um território mais sombrio, onde as sombras da desilusão começam a se insinuar na vida conjugal de Márya. O tempo, esse artesão de mudanças, começa a revelar as fissuras no idílio, expondo as diferenças que se alastram entre ela e Serguei. O que antes era um amor inquestionável, agora é um campo minado de desafios e sacrifícios, cada passo uma dança delicada entre o amor e a perda. Através da evolução de Márya, Tolstói não apenas narra uma história, mas desdobra um estudo profundo sobre a essência da felicidade conjugal. Ele nos mostra como as expectativas podem distorcer a realidade, como as circunstâncias podem remodelar nossos laços e como, no final, é a evolução de nossas relações que define a verdadeira essência do amor. Escrito por Cristina Ruffino. "O Eterno Marido" de Dostoiévski é uma obra intrigante que mergulha nas profundezas da psique humana. Com maestria, o autor desvenda os dilemas da moral e as repercussões de nossos atos. Combinando suspense, drama e uma pitada de ironia, Dostoiévski aborda questões como ciúme, mágoa e a intrincada teia das relações humanas. A narrativa se desenrola ao redor de três figuras centrais: Velchaninov, marcado por seus mistérios e tormentos; Trusotsky, o 'eterno marido', cuja obsessão beira o patético; e Nastassya, cuja presença é sentida ao longo da história, apesar de sua morte. O desenvolvimento do enredo nos convida a refletir sobre a culpa, a possibilidade de redenção e o passado persistente que nos assombra.
O título "O Eterno Marido" serve como uma metáfora para a repetição de padrões de comportamento e relacionamentos, sugerindo que nos tornamos perpetuadores de nossas próprias neuroses. Adotando uma perspectiva bakhtiniana, podemos apreciar o dialogismo da obra, a ideia de que cada diálogo é uma interação de múltiplas vozes, perspectivas e contextos. A história é tecida com diálogos ricos e tensos, revelando uma complexa dinâmica de rivalidade, ciúme e dependência. Essas interações desvendam camadas de significados, com personagens que trazem suas histórias e visões únicas, construindo uma trama de relações dialógicas que enriquecem a narrativa. A obra também explora o conceito de carnavalização, a subversão das hierarquias sociais e convenções por meio do humor e da paródia. Este aspecto questiona e inverte as relações de poder, provocando no leitor uma sensação de surpresa e reflexão. As interações entre os personagens evocam um teatro do absurdo, onde as normas sociais são desafiadas, expondo a fragilidade e arbitrariedade das conexões humanas. Em suma, "O Eterno Marido" é uma análise rica e multifacetada da condição humana, um estudo que continua a desafiar e a fascinar leitores pela sua complexidade e relevância atemporal. Escrito por Aglaia Ruffino Jalles da unboundededu.com Desde o início da pandemia de COVID-19, nossas vidas foram profundamente transformadas. Fomos obrigados a nos distanciar, a adotar o isolamento social e a compensar como nos relacionamos com o mundo. No entanto, à medida que a vacinação avançou e a situação se estabilizou, surgiu uma nova fase: a socialização pós-pandemia! Um novo valor para as conexões A pandemia nos fez perceber o valor inestimável das conexões humanas. Durante meses, enfrentamos a solidão e a separação, tornando-nos mais conscientes da importância do contato humano. Agora, à medida que começamos a nos reconectar com o mundo, essas conexões ganham um significado mais profundo. A interação nos incentiva a não apenas abraçar os momentos pessoais, mas também a apreciar cada encontro, seja com amigos antigos ou com pessoas que conhecemos pela primeira vez. A alegria de simplesmente compartilhar um café ou caminhar juntos no parque se torna uma experiência mais valiosa do que nunca. Enfrentando o Desafio da Ansiedade SocialNo entanto, a socialização pós-pandemia também vem com os seus desafios. Para muitos, a ansiedade social se intensificou durante o período de isolamento. Sentir-se desconfortável ao interagir com os outros ou temer aglomerações tornou-se uma experiência comum. Por isso, ao passo que nos reconectamos, é vital ser gentil consigo mesmo e com os outros. O respeito pelos limites individuais e a compreensão das diferentes velocidades de adaptação à socialização são cruciais. É um momento de reencontro e renovação. Valorizamos mais as conexões humanas, enfrentamos desafios com empatia e buscamos um equilíbrio saudável em nossas vidas. Enquanto navegamos por este novo capítulo, lembramos que a força da humanidade está em nossa capacidade de nos adaptar, crescer e apoiar uns aos outros!
Escrito por Aglaia Ruffino Jalles da unboundededu.com O crescimento dos laudos nas escolas: o que Isso significa para os alunos? No cenário educacional atual, uma característica tem se destacado de maneira significativa: o aumento do número de laudos, de uma forma geral, para jovens alunos em contextos escolares. Mas afinal, o que isso significa e como isso está afetando a educação e o desenvolvimento dos jovens alunos? Neste post, exploraremos essa tendência e discutiremos suas implicações. O que são laudos escolares? Primeiramente, é importante entender o que são os laudos. Esses documentos são geralmente elaborados por profissionais da área da saúde, como psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e médicos, e têm como objetivo identificar possíveis necessidades especiais ou dificuldades de aprendizagem. Eles podem identificar questões como autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), dislexia, entre outros. O aumento dos laudos: uma tendência emergente Nos últimos anos, observamos um aumento notável na emissão de laudos médicos para jovens em idade escolar. Existem várias razões para essa tendência. Uma delas é uma conscientização crescente sobre as diversas necessidades dos jovens alunos, o que leva a uma busca mais ativa por ajuda e suporte para garantir que todos tenham igualdade de oportunidades na educação. Além disso, as escolas estão se tornando mais inclusivas, buscando acomodar as diferentes necessidades de seus alunos. Isso resulta em uma maior demanda por avaliações que podem direcionar estratégias de ensino individualizadas. As implicações para os jovens alunos e a educação O aumento dos laudos escolares tem implicações significativas para os alunos e para o sistema educacional como um todo:
Em contrapartida, o aumento dos laudos também traz desafios. É crucial evitar a medicalização excessiva da educação, onde todas as diferenças são rotuladas como "problemas"; tornando-se estereotipias. Ao invés disso, é importante ver cada criança como única, com suas próprias habilidades e desafios, sem taxação e assumi-la como um “bode expiatório” (considerá-la como fora do padrão social e educacional). Todo aluno terá necessidades específicas, com ou sem transtornos mentais. Alguns serão mais agitados e outros mais calmos, alguns serão mais facilmente motivados do que outros, e é dever do professor e da escola atender a essas necessidades na medida do possível. Se um aluno parece desinteressado ou está com dificuldade em seu aprendizado, é importante que o professor investigue e reflita sobre a situação para que encontre caminhos que funcionem melhor para aquele aluno específico. O professor não deve tomar essa responsabilidade sozinho, claro, a escola deve oferecer o suporte necessário para que o professor possa atender a todos os alunos, por mais diferentes que eles sejam. Um laudo médico pode ajudar alunos a receberem o suporte adequado que necessitem, porém, sozinho, o laudo médico não muda a realidade da sala de aula. O aluno com dificuldades de aprendizagem precisa da atenção e reflexão do professor e da escola para que mudanças ocorram. De fato, o laudo médico é o próximo passo a ser tomado depois que mudanças já foram feitas na sala de aula ou em relação a um aluno específico e estas não foram efetivas e o aluno continua a mostrar dificuldades. Além disso, o processo de solicitação e de testes para o laudo médico é muito delicado e, se não é feito de maneira sensível e cuidadosa, pode levar o aluno a construir uma ideia negativa de si mesmo, o que pode gerar ainda mais dificuldades e problemas no seu aprendizado. Durante o processo, o aluno, sobretudo crianças e adolescentes que ainda estão desenvolvendo sua personalidade e seu senso de si, pode criar uma narrativa de si como alguém que não aprende, que não é inteligente, que é bagunceiro, e tal narrativa pode levar o aluno a intensificar ainda mais estes comportamentos. Assim, o processo para adquirir um laudo médico deve ser feito de maneira muito delicada, com acompanhamento psicológico para o aluno e muito suporte por parte de professores, família e profissionais de saúde para que este não se torne mais um problema na vida do aluno. Portanto, os laudos podem melhorar a qualidade da educação e garantir que todas as crianças tenham a chance de atingir seu potencial máximo. No entanto, é fundamental que o sistema educacional mantenha o equilíbrio, evitando a estigmatização excessiva e garantindo que cada criança seja vista como única. O objetivo final é criar um ambiente educacional que seja inclusivo e que capacite todas as crianças a prosperar, além de promover a formação e o apoio contínuo aos professores!
Escrito por Cristina Ruffino.
John Gottman é um grande estudioso de relacionamentos amorosos heterossexuais. Ele foi quem chegou a uma razão de 5/1 para o equilíbrio entre interações positivas e negativas em relacionamentos estáveis e felizes (seja lá o que quer dizer "felizes"!!). De acordo com suas pesquisas, para cada interação negativa, deve haver pelo menos cinco interações positivas. Isso significa que as expressões de afeto, atenção e apoio devem superar significativamente os momentos de tensão e desacordo para manter um relacionamento saudável. Ele também formulou os "Sete Princípios para Fazer o Casamento Funcionar", quais sejam: 1. Aprimorar o mapa amoroso: que se refere a cada um ter interesse e buscar conhecer detalhes da vida do seu parceiro, desde os fatos básicos de sua história até seus sonhos atuais, preocupações e esperanças para o futuro. Buscar conhecer o que seu/sua parceiro(a) gosta, o que não gosta, as histórias da infância dele(a), o que ele(a) quer para o futuro... tudo! Quando estamos enamorados fazemos isso de forma natural, podemos ficar horas ouvindo o outro. O que será que no decorrer da relação nos faz pensar que já conhecemos? Como podemos (re)adquirir e trazer para a relação a curiosidade inicial. 2. Nutrir a afeição e a admiração: ou seja, cultivar o respeito e a apreciação pelo seu(sua) parceiro(a), vendo-o de uma maneira positiva em vez de se concentrar nos defeitos. Em outras palavras, "ser fã número um do(a) seu(sua) parceiro(a)". É como ser torcedor convicto de um time, mesmo quando o nosso time joga com outro muito mais forte, não deixamos de estar presente, torcendo, vibrando e dando apoio. Olhe para o seu amor e relembre as características que te encantaram, elas ainda estão presentes, diga isso a ele(a). 3. Voltar-se um para o outro: que em ações significa responder positivamente aos pedidos de atenção, afeto e apoio do(a) seu parceiro(a), em vez de se afastar ou responder negativamente e com intolerância. 4. Deixar-se influenciar: ter uma atitude aberta para as ideias e sentimentos do seu parceiro e estar disposto a comprometer-se e aceitar a influência deles. Uma metáfora boa para isso é "sejam um time", tem horas que ele(a) te passa a bola para você fazer o gol e tem horas que você pode passar para ele(a) chutar para o gol. Qualquer um dos dois podem errar, mas estarão juntos para lidar com a vitória ou a derrota. 5. Resolver os problemas solucionáveis: aprender a diferenciar a qualidade dos problemas, bem como, identificar os problemas que podem ser resolvidos por vocês, além de desenvolver as habilidades para lidar com eles de maneira eficaz. Existem problemas que não são solucionáveis com os recursos de vocês naquele momento, é possível ficar bem com isso? 6. Superar o impasse, ou "aprender a dançar na chuva": que se refere a adotar uma abordagem construtiva para lidar com problemas perenes ou recorrentes, e aprender a dialogar sobre eles com respeito. Se tem algo que sempre vira briga e vocês não encontraram uma forma de mudar, pode ser melhor aprender a lidar com isso do que ficar batendo cabeça. Não é ignorar, mas sim encontrar um jeito de conviver com essas diferenças. 7. Criar um significado compartilhado: desenvolver um entendimento mútuo dos valores e rituais de conexão que constituem a visão do casal para o futuro e a vida que desejam construir juntos. Pode ser desde planejar uma viagem juntos até construir sonhos e planos do que querem realizar como casal. Criar rituais simples do dia a dia é uma forma de unir o casal e dá um sentido maior para estarem juntos. No fundo, estes princípios de Gottman são sobre o casal se conhecer profundamente, mostrar respeito e admiração, estar presente e responder às necessidades do parceiro, trabalhar juntos, resolver o que é possível, aprender a aceitar o que não pode ser mudado, e criar uma vida juntos com significado e propósito compartilhados. Nenhum é novidade, mas é sempre bom nos lembrar, não é? Escrito por Cristina Ruffino.
A psiquiatria interpessoal e a neurociência têm nos oferecido muito material para compreendermos o cérebro do adolescente e, com isso, ampliarmos as possibilidades de significar e entender seus comportamentos e emoções para além do déficit ou de uma comparação com um cérebro adulto. Dizer o que ele não é, não o ajudará a se tornar o que pode ser de melhor. A adolescência é um período de profunda remodelação cerebral. Durante esta fase, o cérebro passa por um processo de "poda" neural, onde conexões sinápticas menos usadas são eliminadas, tornando o cérebro mais eficiente. Esse é um processo e, enquanto tal, toma tempo e precisa de ajustes. O córtex pré-frontal, que está envolvido no planejamento, tomada de decisões e modulação das emoções, ainda está em desenvolvimento durante a adolescência. Isso pode explicar a propensão dos adolescentes a comportamentos impulsivos e a dificuldade em prever as consequências de suas ações. O espanto é ver que muitos adultos parecem seguir assim pelo resto da vida!!! Concomitantemente à formação do córtex pré-frontal, há um aumento na busca por novas experiências. Isso é atribuído a mudanças no sistema de recompensa do cérebro, que podem impulsionar os adolescentes para novidades, aventuras e, às vezes, comportamentos de risco. Uma forma dos pais ajudarem é apoiando a busca por novas experiências de forma segura e construtiva. Isso inclui encorajar hobbies, interesses e amizades saudáveis. Ao mesmo tempo em que podem encorajar os jovens a enfrentar desafios e a desenvolver habilidades de resolução de problemas, aumentando assim sua resiliência e confiança. Neste momento de vida, há também uma aceleração da "integração cerebral", ou seja, desenvolve-se a conexão de diferentes partes do cérebro. Uma melhor integração cerebral durante a adolescência pode levar a uma saúde mental e emocional mais sólida. Os pais podem oferecer modelos de comportamentos saudáveis, incluindo a regulação emocional, o respeito nas interações e o cuidado com a saúde mental e física. Neste período, os adolescentes são particularmente sensíveis às influências sociais e emocionais, o que está relacionado à atividade intensificada no sistema límbico, a parte do cérebro envolvida na regulação emocional. Os pais favorecem este processo na medida em que se comunicam de maneira aberta e empática, evitando julgamentos e críticas. Tentar ouvir e entender a perspectiva do adolescente é uma forma de ajudá-lo a se ouvir e se entender também 𛰃 ouvi-lo, essa é uma grande ferramenta. Este é um período da vida em que é extremamente necessário a conexão emocional, a expressão de amor e o apoio. A conexão emocional não implica em restringir o ambiente dele ao ambiente doméstico. Ele precisa de independência como instrumento de amadurecimento. Independência não deve ocorrer sem o estabelecimento de limites claros e consistentes para a segurança e o desenvolvimento dele. Assim, os limites devem ser equilibrados com a concessão de autonomia apropriada. Como ferramenta de autoconsciência, regulação emocional e empatia, a prática de mindfulness (atenção plena), tai chi, yoga, podem ser aliadas de toda a família. Adolescência é uma fase maravilhosa e cheia de desafios e podemos usufruir deste momento único aprendendo com eles. Escrito por Cristina Ruffino.
O desafio dos relacionamentos à distância é uma experiência complexa e emocionalmente intensa, é uma dança delicada de amor, paciência e tecnologia, onde espera-se que os corações se encontrem, ainda que separados por milhas. Em um mundo cada vez mais globalizado e conectado, os casais se encontram navegando nas águas turvas da distância, onde a proximidade física dá lugar a uma conexão digital. O relacionamento à distância, exige que os envolvidos possam manter um vínculo emocional e confiança mútua, apesar da separação física. A comunicação constante através de tecnologias digitais como mensagens, chamadas de vídeo e e-mails desempenha um papel crucial, atuando como uma ponte que os une. Contudo, essa separação pode trazer desafios adicionais, como a sensação de solidão que um dos parceiros pode experimentar. Este sentimento de solidão pode intensificar as inseguranças e criar mal-entendidos, tornando a comunicação e a confiança ainda mais fundamentais. Encontros presenciais são momentos preciosos e intensos, valorizados por ambos, enquanto a distância física pode também promover um crescimento pessoal e independência. Quando há filhos envolvidos, aquele que fica com os filhos a maior parte do tempo pode se sentir sobrecarregado e sem ter com quem dividir os cuidados diários, trazendo para a relação cobranças e queixas. Apesar dos desafios, como a solidão e a saudade, relacionamentos à distância podem fortalecer os laços emocionais e demonstrar a resiliência do amor, ou, ao contrário, podem levar o casal a questionar se vale a pena estar junto. Neste caso, conversas francas precisam ser feitas. Escrito por Cristina Ruffino.
Constantemente estou com pais e filhos adolescentes e as queixas de ambos os lados se repetem e parecem que se retroalimentam uma da outra. O filho(a) com a queixa: "meu pai / minha mãe não param de implicar"; o pai / mãe dizendo: "não sai do quarto, não conversa, não estuda, não corta o cabelo, não acorda, bebe muito, não atende o celular…". Muitas vezes ofereço para o(a) adolescente a pergunta: "como você pode ajudar seu pai /sua mãe a pararem de implicar já que isso te incomoda?". Eles são muito diretos e claros: "fazendo a coisa certa". Então podemos começar a ver o que eles entendem que seria "a coisa certa". E o diálogo vai nos ajudando a diferenciar, de forma lenta e conjunta, "a coisa certa" do que pode ser: um costume da sociedade, uma forma preferida de alguns grupos, desejos ou preferências dos pais; certo para quem e quando? Na medida em que estas diferenciações podem ser examinadas, é possível posicionar-se frente a cada uma delas e assumir responsabilidades possíveis a partir de um lugar de autor dos seus atos, e não de pura obediência. Pois é justamente que eles estão buscando, serem autores. Neste processo de diferenciação os pais também podem perceber que unhas pintadas de preto ou francesinha expressam um gosto pessoal, muito provavelmente mutável ao longo do tempo e socialmente compartilhado com um grupo de pertencimento e que isso não define o caráter do filho(a). Cabelo azul ou rosa tão pouco diz sobre escolhas futuras do filho. Feita a distinção, os pais podem perceber que nem todos os comportamentos e atitudes exigem intervenção. Eles podem se concentrar em questões de segurança, saúde e escola e deixar questões "menores" (como preferências de moda, escolhas musicais ou cor do cabelo) como espaço de exercício para o desenvolvimento da identidade e autonomia. Focar nas questões mais críticas pode ser mais eficaz e alivia a relação de tantos conflitos. Quando focamos em questões críticas, podemos criar um nível de compromisso e estabelecimento das formas em que aquilo será verificado, ou seja, usamos de parâmetros mais objetivos relacionados às metas traçadas. O que permitirá que aquele que tem um determinado desafio a cumpri-lo, é dar visibilidade para suas conquistas, de forma que ele se sinta reconhecido também pelo que consegue fazer. Me lembro bem de uma família que comecei a acompanhar nas férias de julho. A questão trazida como problema era a filha adolescente não estar estudando, ter ficado com quase todas as notas vermelhas no primeiro semestre. A decisão dos pais estava tomada: "ou estuda ou vai para a escola pública porque não investiremos em escola se não tiver esforço da parte dela". Através do diálogo foram definindo uma rotina, tempo de estudo, acordaram em tirar as saídas com amigos durante a semana e delimitou-se o tempo de uso de celular. A adolescente foi cumprindo cada um destes acordos, quando o boletim do terceiro bimestre chegou: tudo azul, notas entre 8,3 e 9,5. Ai a mãe diz: "ah, mas ela estuda emburrada". E ai entra a tal da distinção: o que foi definido como obrigatório foi o estudo. Se seria de cara boa ou emburrado, poderia ser uma escolha da adolescente. Percebem que se a cada meta alcançada vem um "mas não escovou o dente", "mas não quis ir no aniversário do primo", o adolescente estará constantemente sobre reprovação dos olhos insatisfeitos dos pais e isso não ajuda na conexão e no pertencimento. Me parece que os adolescentes que conseguem passar melhor por esta fase delicada da vida são aqueles que podem contar com o reconhecimento e presença dos pais nas suas "vitórias" cotidianas, isso oferece a eles um parâmetro do tamanho dos sonhos que podem sonhar. Escrito por Cristina Ruffino.
Aprendo com meus clientes sobre o que ganha significado para eles e quais as formas que eles vão encontrando para dar sentido às suas experiências. Isso vem em forma dos livros que leram, dos influencers que seguem, do que recortaram dos jornais, das séries... enfim, vêm da vida e eles dividem comigo na medida em que me deixam conhecer. Nesta última semana, 3 casais fizeram referência aos conceitos do Gary Chapman no livro "As Cinco Linguagens do Amor". Um dos casais me explicando por que não se entendiam: "ela é muito atos de serviço, eu sou toque físico", ou "eu já falei para ele que eu só me sinto amada com palavras de afirmação e ele insiste em me oferecer presentes, devolvo todos". É interessante ouvi-los e independe do meu entendimento destes conceitos, mais do que do livro, eles vão me falando deles e dos entendimentos que constroem. Neste livro, Chapman propõe que existem cinco maneiras pelas quais as pessoas expressam e recebem amor. Segundo ele, essas linguagens são ferramentas essenciais para melhorar a comunicação e fortalecer os relacionamentos. E assim as descreve: 1. Palavras de Afirmação: nesta linguagem a pessoa expressa seu amor através de palavras carinhosas, elogios, cartas e bilhetes. Para pessoas que valorizam palavras de afirmação, ouvir "eu te amo" é extremamente poderoso e significativo. 2. Tempo de Qualidade: os que compartilham desta linguagem, dão atenção plena àquele que amam. Isso significa dedicar tempo ao outro, seja através de conversas profundas, passeios juntos, ou simplesmente estar presente sem as distrações de dispositivos eletrônicos ou outras tarefas. 3. Presentes: para esse grupo, o que melhor expressa amor são os presentes pensados e escolhidos para a pessoa amada. Não importa se são coisas caras ou raras, mas a lembrança, esforço e cuidado ao escolher algo que possa agradar. Para quem se comunica desta forma, um presente simboliza que a pessoa foi lembrada e valorizada. 4. Atos de Serviço: Realizar ações em benefício da outra pessoa, como preparar o almoço, cuidar da casa ou do jardim pensando em alegrar o outro. Fazer pelo outro algo que o outro faria ou gostaria de ver feito. 5. Toque Físico: Nesta linguagem, o contato físico é uma demonstração direta de amor e carinho. Beijos, toques, mãos dadas, carícias, tudo isso expressa calor, segurança e amor de forma muito direta para quem valoriza essa linguagem. Não gosto de tipificações, creio que somos mais do que isso, mas saber que para algumas pessoas essa forma de apresentação das diferenças e das possibilidades do amor as ajudam a entender a si e a seus parceiros, se torna uma metáfora que nos abre portas no diálogo, e isso importa. Escrito por Cristina Ruffino.
Hikikomori foi o termo cunhado para um fenômeno que vem sendo identificado a partir de sintomas como isolamento social voluntário, falta de conexão física e dependência total. O psicólogo Tamaki Saito, no final da década de 90 comparou o comportamento ao de uma "adolescência prolongada", já que os jovens vivem com seus pais que lhes dão o suporte financeiro e emocional. Porém, diferentemente do desejo natural do adolescente de se tornar independente dos pais, os hikikomoris parecem não ter esse desejo, pelo menos não o expressam em palavras ou atos. A adolescência é um período de transição da infância para a fase adulta, neste período o sujeito enfrenta desafios e incertezas de diversas ordens: formação de relações interpessoais fora da família, relações românticas, o desenvolvimento de independência e a entrada no mercado de trabalho. Os hikikomoris, ao se isolarem, não enfrentam essas dificuldades e nem lidam com as pressões externas e as expectativas sociais. Esta falta de experiência pode resultar em um atraso no desenvolvimento pessoal e social que pode se prolongar indefinidamente. Há estudiosos que dizem que em casos de hikikomori há um episódio de “derrota sem luta” que antecede o isolamento, ou seja, a pessoa desiste de algo desejado sem nunca ter lutado por aquilo. O fácil acesso à internet e a disponibilidade de entretenimento e comunicação online podem permitir que os jovens hikikomoris vivam em um mundo virtual, reduzindo a necessidade ou desejo de interações no mundo real. O fenômeno não pode ser visto sem considerar a dinâmica familiar, já que é um fenômeno que, para existir, precisa de pais que o mantenham. Em alguns casos, os pais podem inadvertidamente facilitar o isolamento ao prover todas as necessidades básicas do jovem em casa ou verem nas ações de isolamento do filho um "gosto pessoal" a ser respeitado. Vê-se formado um círculo vicioso onde um sintoma gera outros, que gerarão outros tantos. Escrito por Cristina Ruffino, na Série Externalização #5.
A externalização do problema pode ser uma abordagem particularmente valiosa no caso de lidar com ideações suicidas. Esta abordagem, que envolve tratar o problema como algo separado da pessoa, pode oferecer uma nova maneira de entender e enfrentar esses pensamentos dolorosos e muitas vezes esmagadores. Quando alguém está enfrentando pensamentos suicidas, é fácil para essa pessoa sentir-se identificada ou consumida por essas ideias. Ela pode começar a acreditar que esses pensamentos são uma parte intrínseca de quem ela é. Aqui é onde a externalização pode ajudar significativamente. Ao visualizar os pensamentos suicidas como um agente externo ou uma força separada que está invadindo a mente, é possível criar uma distância psicológica entre a pessoa e os pensamentos. Essa distância pode ser extremamente libertadora. Em vez de lutar contra si mesma, a pessoa passa a lidar com um desafio externo. Isso pode reduzir a intensidade da autocrítica e da vergonha, que muitas vezes acompanham ideações suicidas. Ao externalizar, a pessoa pode começar a perceber que, embora esses pensamentos estejam presentes, eles não a definem e, mais importante, não precisam ditar suas ações. Além disso, a externalização pode abrir espaço para uma melhor intervenção de apoio, seja de amigos, familiares ou profissionais. Quando os pensamentos suicidas são vistos como um problema externo, torna-se mais fácil para outras pessoas oferecerem ajuda. Eles não estão lutando contra a pessoa, mas sim ao lado dela, contra um desafio comum. Criar uma separação entre a pessoa e seus problemas, no caso os pensamentos perturbadores, pode reduzir a sensação de isolamento e desespero, encorajar o apoio e a intervenção, e servir como um passo importante no caminho para a recuperação e a saúde mental. Escrito por Cristina Ruffino, na Série Externalização #4.
Lidar com o uso de drogas dentro da família é uma tarefa desafiadora, mas abordar essa questão sob a ótica da externalização pode oferecer uma nova perspectiva, tanto para a família quanto para a pessoa que está lutando contra o vício. Externalizar o problema significa vê-lo como um invasor externo, e não como uma falha ou deficiência do indivíduo. Quando uma família começa a ver o vício em drogas não como um problema intrínseco de um membro, mas como um desafio externo que afeta a todos, a dinâmica muda. A pessoa que está usando drogas não é mais rotulada como o "problemático" ou o "viciado". Em vez disso, o vício é identificado como o inimigo comum que todos estão enfrentando. Isso pode ajudar a reduzir a culpa e a vergonha que frequentemente acompanham o uso de drogas, tanto para o indivíduo quanto para a família. Essa abordagem também pode fortalecer a união familiar. Ao invés de isolar o membro que está lutando com o vício, a família pode se unir para combater esse intruso externo. Isso não apenas proporciona um apoio crucial para a pessoa que está enfrentando o vício, mas também ajuda os outros membros da família a se sentirem mais capacitados e envolvidos na solução do problema. A externalização pode abrir caminho para uma comunicação mais aberta e eficaz. Em vez de acusações e discussões carregadas de emoção, as conversas podem se concentrar em como conhecer as ações e intenções do problema e pensar formas de identificar recursos para apoiar a pessoa em sua jornada de resistência. Ao mesmo tempo, permite que a família explore e aborde as circunstâncias que podem ter contribuído para o surgimento do vício. Em suma, abordar o uso de drogas na família a partir de uma perspectiva de externalização pode ser uma forma poderosa de enfrentar o problema. Ao reconhecer o vício como um inimigo externo, a família pode se unir em um esforço comum para apoiar seu ente querido, fortalecendo os laços familiares e promovendo um ambiente de recuperação e compreensão. Escrito por Cristina Ruffino, na Série Externalização #3. Tenho enfrentado, junto com alguns clientes, o desafio de minimizar o poder do Alcoolismo da vida deles e de suas famílias. A terapia narrativa tem sido a lente com a qual percebo que é possível falar com os clientes e suas famílias a partir de um lugar de maior agência e controle de si e da situação. A jornada pelo mundo do alcoolismo, quando vista através da lente da terapia narrativa e da externalização do problema, desdobra-se como uma narrativa onde o alcoolismo não é uma característica intrínseca do indivíduo, uma falha moral ou de caráter, mas sim um intruso externo com o qual a pessoa se depara. Nessa história, o alcoolismo é personificado como um antagonista astuto, um desafiador persistente que se infiltra nas rotinas, nos pensamentos e nas relações, alterando a paisagem da vida cotidiana. Para quem enfrenta esse antagonista, a luta não é apenas contra um hábito ou uma dependência, mas contra uma força externa que parece ter sua própria vontade e que impõe à vida das pessoas seus desejos. Essa personificação do alcoolismo permite uma distância crítica e psicológica do problema, ajudando a ver que o 'eu' e o 'alcoolismo' são entidades separadas. Esta abordagem oferece uma mudança de perspectiva, transformando o enfrentamento ao vício em um confronto com um inimigo externo. Nessa narrativa, cada recaída, cada tentação resistida, e cada dia de sobriedade ganha novo significado. Não são mais vistos como falhas ou sucessos pessoais, mas como eventos em um campo de batalha mais amplo. As recaídas são estratégias astutas do adversário, enquanto a resistência e a sobriedade são vitórias contra ele. Este ponto de vista ajuda a aliviar a culpa e a vergonha que muitas vezes acompanham o alcoolismo, pois o indivíduo pode se reconhecer como um lutador corajoso contra um inimigo formidável, em vez de alguém definido ou derrotado pelo problema. Nessa luta, o apoio de amigos, familiares e profissionais é como um exército aliado. Eles não estão lá para julgar ou repreender, mas para fornecer estratégias, conforto e um lembrete do mundo além do alcance do alcoolismo. Neste contexto, terapeutas atuam com as pessoas como táticos e estrategistas, ajudando a mapear o terreno, compreender as estratégias do adversário para planejar formas de enfrentamento e resistência. Além disso, a externalização do alcoolismo permite uma visão mais otimista e esperançosa. Se o alcoolismo é um inimigo externo, então há a possibilidade de vitória, de trégua, de redefinir o território da própria vida. O indivíduo pode começar a vislumbrar um futuro onde ele vive livre desse adversário, não por negar sua existência, mas por reconhecer sua separação dele. Essa jornada não é simples nem linear. É uma luta contínua, repleta de altos e baixos, avanços e recuos. No entanto, ao tratar o alcoolismo como um problema externo, cria-se um espaço para a compaixão, a resiliência e, acima de tudo, a esperança de que, apesar dos desafios e das dificuldades, o indivíduo tem a força e o apoio para reivindicar sua vida de volta das garras desse inimigo astuto. Escrito por Cristina Ruffino, na Série Externalização #2. A externalização do problema no contexto do vício digital é uma forma de reenquadrar a situação de uma forma em que a pessoa que convive com o problema se torne mais potente frente a ele. O vício digital não é visto como uma falha interna da pessoa, mas como um desafio externo, algo que está ali, separado dela. É como se o vício fosse um personagem próprio, um elemento intrusivo que entra na vida da pessoa sem ser convidado e interfere desastrosamente na vida da pessoa.
Essa maneira de ver as coisas traz uma mudança de perspectiva importante. Em vez de se identificar como "viciado", o indivíduo começa a ver o vício como algo danoso frente ao qual resiste. Isso pode ser incrivelmente libertador. Afinal, se o vício é visto como externo, ele não define a pessoa. Ele é apenas um obstáculo a ser superado, não uma característica da própria identidade ou caráter da pessoa. Ao externalizar o problema, a pessoa pode começar a pensar em estratégias para enfrentá-lo, como se estivesse elaborando um plano para conhecer melhor um adversário e conseguir não se deixar levar pelas suas seduções. Pode fazer parte deste plano: limitar o uso de dispositivos digitais, buscar atividades alternativas que preencham o tempo de forma mais saudável ou até mesmo procurar apoio profissional. A família tem um papel importantíssimo de resistência ao problema junto com a pessoa. Se entendermos que o Vício é um agente que convence a pessoa a se manter isolado no quarto escuro, a família pode atuar no sentido de ser aquela que não entra nas "artimanhas" do Vício e abre as janelas, chama para fora do quarto, propõe alternativas que minem o poder do Vício sobre a pessoa. O mais importante é que esse reenquadramento oferece esperança e empoderamento. Em vez de se sentir derrotado pelo vício, a pessoa se vê como alguém que está enfrentando um desafio difícil, mas superável. Isso enfatiza a força e a resiliência, ao invés da vulnerabilidade e da fraqueza. Afinal, se o problema é externo, então ele pode ser confrontado, controlado e, eventualmente, vencido. |
Cristina RuffinoSou Pedagoga (Unicamp), Mestre em Psicologia (Unicamp), doutora em Psicologia pela USP-RP. Arquivos
Dezembro 2024
Categorias
Tudo
|